“O Brutalista” pode ser definido como um filme do pós-guerra. De um pós-Segunda Guerra que parece começar quando o eufórico húngaro Lászlo Toth passa pela Estátua da Liberdade. Naquele momento, de desordem e miséria na Europa, os EUA representavam a energia, a criatividade, a proteção, o progresso para cidadãos de todo o mundo.
É lá que Lászlo pretende refazer sua vida. Mas o pós-guerra ainda é a guerra: na Hungria ficaram a sua mulher, Erzébet, e a sobrinha, Zsófia. Laszlo foi separado de Erzébet pelos nazistas. Cada um foi parar em um campo de concentração diferente. Agora, ele tenta trazê-la junto com Zsófia para os Estados Unidos.
Lászlo passará dificuldades enormes até o bilionário Van Buren, da Pensilvânia, descobrir que ele é um arquiteto da célebre escola Bauhaus e tudo mais. Van Buren decide fazer um ambicioso monumento à memória de sua mãe —na verdade, a si mesmo— na sua propriedade, tão grande quanto sua fortuna. Não se sabe se Van Buren já tinha a ideia na cabeça e passou à prática ao localizar o arquiteto, ou vice-versa.
A proximidade de Lászlo com Van Buren facilita a vinda de Ersébet e da sobrinha para os Estados Unidos. Então podemos perceber que a guerra não acabou. A sobrinha recusa-se a falar, enquanto a mulher sofre de violenta osteoporose em decorrência da fome que passou. As marcas da guerra estão lá.
Aos poucos nos damos conta de que a guerra realmente não acabou, ao menos para Brady Corbet, autor deste filme —assim como “A Infância de um Líder”, seu primeiro filme, notava que a Primeira Guerra não tinha acabado em 1918. Aqui, a guerra prossegue entre as vítimas dos nazistas, por exemplo. A família de Toth entre outros. Mas não só, a imensa bagunça em que se encontra a Europa nos anos seguintes incide sobre os personagens e seu destino.
Isso não é menos interessante do que a obsessão de Lászlo de construir sua grande obra, uma obra que resumiria sua vida. Mas não é fácil convencer os caipiras locais das virtudes da nova arquitetura, e muito menos de materiais então baratos como o concreto.
Como em seus filmes anteriores, Corbet leva seu drama buscando um episódio capaz de definir uma era, um modo de pensar. A diferença em relação às primeiras empreitadas —grandes painéis de um era ou de um lugar— talvez esteja, em parte, no estilo, na escolha por um evento marginal como condutor de seu pensamento.
E também na maneira como desenvolve suas ideias, detidamente, sem pressa, sem medo de que um assunto tão pouco explorado pelo cinema como a arquitetura afugente o público. Nem, aliás, suas 3h40 de duração, contando o intervalo de 15 min. A intriga se desenvolve sem pressa, como se Corbet buscasse assentar suas ideias solidamente.
Ideias sobre o mundo, mas sobre o cinema também. Porque as ambições de Lászlo e Van Buren por vezes são conflitantes, por vezes são complementares. A arquitetura e o cinema são, afinal, artes afins, porque supõem negociação permanente. Mas não só por isso.
É preciso compreender a questão da vontade implicada numa obra de arte, parece nos lembrar o autor deste filme. Porque as ideias de arquiteto e cineasta só existem se lançadas no espaço: não existem no papel. E a passagem do projeto à obra é feita de sacrifício, de perseverança, de ousadia.
Também aqui, esse painel mobiliza eras passadas e eras ainda por vir. Vive-se a paz de guerras não declaradas. Corbet move-se por esse terreno sem pressa, ao mesmo tempo que constrói uma multidão de eventos que fazem o filme passar suavemente, como se tivesse 1h30 ou 1h40. Nesses eventos, no entanto, não existem os bons e os maus, os certos e os errados: tudo envolve uma tecitura delicada, que retira qualquer moral do centro do conflito.
A isso se junta um modo particular de montagem, em que as cenas com frequência parecem ser cortadas antes de terminar: modo que nos impede de compreender o significado e o objetivo de certos gestos ao mesmo tempo em que o filme se abre imensamente à ambiguidade dos gestos, das coisas, dos propósitos e mesmo dos destinos que temos diante de nós.
Ao contrário de tantos cineastas contemporâneos, que erigem cuidadosos simulacros do cinema clássico, Corbet nos restitui a crença na igualdade entre os signos e aquilo que acreditamos que seja real. Produz verdade, em suma, como Lászlo Toth, aliás. O faz com um mergulho profundo na história e na ficção, no concreto e na alma das coisas.
Apesar das tantas comparações feitas, inclusive pelo próprio autor, com outros filmes e autores, “O Brutalista” me lembra outro filme gigantesco, “Terra dos Faraós”, de 1955, em que um homem, um faraó, edifica uma pirâmide monumental que seja seu túmulo e, ao mesmo tempo, o torne eterno, mais que um homem.
Talvez sejam isso as grandes obras, em especial essas, arquitetônicas, capazes de ser eternas, ao mesmo tempo em que são ideia e coisa a um só tempo. Elas podem dar sentido a uma vida? Dão sentido a um mundo sem sentido? Tomam por um instante o lugar da guerra incessante e criam, em vez de destruição, beleza?
“O Brutalista” é uma obra-prima, que dificilmente não será reconhecida em seu tempo, compensa com rigor e paciência o imenso vácuo de quase todo o cinema atual dos EUA.
















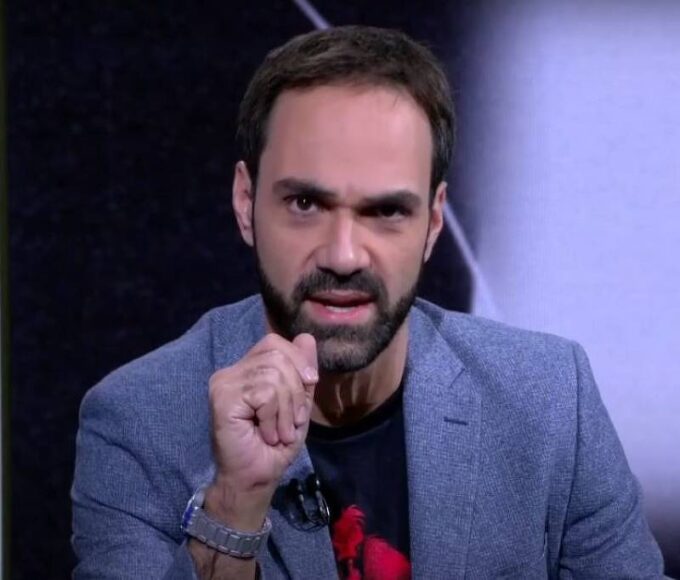

Deixe um comentário